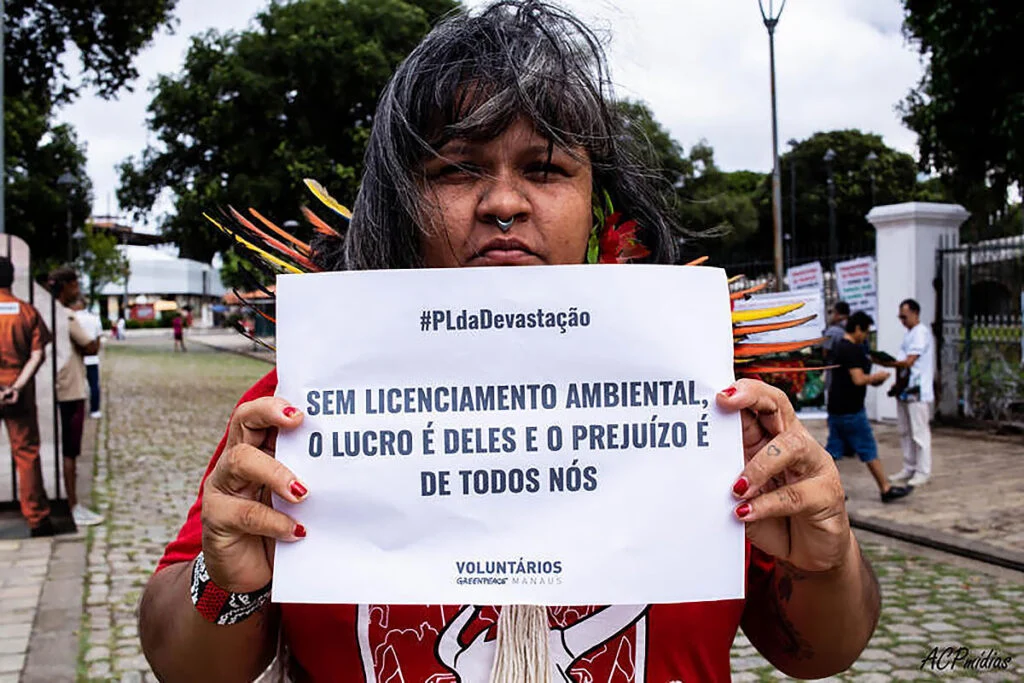Primeira infância nas favelas: entre o começo da vida e a falta de direitos
No Brasil, mais de 1,2 milhão de crianças de 0 a 4 anos crescem em favelas e comunidades urbanas e enfrentam desafios como falta de saneamento básico, pavimentação e violência armada
Por Amanda Stabile
28|08|2025
Alterado em 29|08|2025
No Brasil, mais de 1,2 milhão de crianças de 0 a 4 anos crescem em favelas e comunidades urbanas, de acordo com o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elas estão nos becos, nas vielas e nos quintais onde a vida pulsa — mas também onde persistem desafios que comprometem direitos básicos. A maioria é negra: 677 mil são pardas e 122 mil, pretas. Há ainda 4.473 crianças indígenas, 906 amarelas e pouco mais de 400 mil brancas.
Esses números ajudam a dimensionar um cenário que exige atenção. Ainda de acordo com o IBGE, sete em cada dez moradias têm esgoto conectado à rede geral. Nas outras, o destino dos dejetos são fossas improvisadas ou valas a céu aberto.
Na coleta de lixo, a cobertura chega a 80% dos domicílios, mas de forma irregular em áreas de acesso mais difícil. Já a pavimentação é um desafio: 35% das ruas seguem sem calçamento, o que transforma a vida em dias de chuva e aumenta riscos de enchentes e deslizamentos.
Além das carências estruturais, estudos apontam que crianças em territórios periféricos enfrentam obstáculos adicionais no acesso à educação e à vivência plena da infância. A pesquisa “Entre a favela e o castelo: infância, desigualdades sociais e escolares”, de Deise Arenhart e Mauricio Roberto da Silva, indica que as crianças empobrecidas vivem dupla condição de vulnerabilidade: por ser pequena e por estar inserida em um contexto de pobreza.
O Mapa da Desigualdade da Primeira Infância (2020), da Rede Nossa São Paulo em colaboração com a Bernard van Leer Foundation, evidencia essas desigualdades. O estudo apontou que as regiões com maior índice de mortalidade infantil ficam nas periferias de São Paulo (SP) em comparação com o centro da cidade.
Uma criança que vive no bairro de Marsilac, extremo sul da cidade de São Paulo (SP), por exemplo, tem 23 vezes mais chances de morrer antes do primeiro ano que uma criança do bairro de Perdizes, zona oeste da capital. Em 2017, na primeira edição do estudo, a diferença já era de 20 vezes — o que mostra um cenário que não apenas persiste, como se aprofundou.
A favela como espaço afetivo e educativo
Esses números ganham contornos ainda mais concretos quando olhamos para dentro das casas e rotinas das famílias. Segundo a pesquisa “O Brincar nas Favelas Brasileiras”, do Instituto Data Favela, para duas em cada três mães entrevistadas, cuidar das crianças é a tarefa que mais ocupa o dia, mas metade relata dificuldade até de encontrar tempo para brincar com os filhos.
Diante da sobrecarga, 88% recorrem a telas como apoio, mesmo preocupadas com o conteúdo consumido. Em termos de infraestrutura, apenas 29% das comunidades contam com parquinho, e ruas sem asfalto e cheias de buracos tornam arriscado até andar de bicicleta. Assim, a maior parte das brincadeiras acontece dentro de casa, com irmãos ou sozinhos.
As mães valorizam o brincar como parte essencial do desenvolvimento: dão nota média 9,2 (de 0 a 10) para sua importância. Mas muitas reconhecem que, sem apoio, espaços seguros e políticas públicas, a infância de suas crianças segue limitada a improvisos entre a falta de tempo, a precariedade urbana e o desejo de oferecer mais.
Quando há espaço e oportunidade, as favelas se revelam territórios de invenção cotidiana. O brincar, como mostram Beatriz Corsino Pérez e Marina Dantas Jardim no artigo “Os lugares da infância na favela: da brincadeira à participação”, não é apenas lazer — é também forma de conhecer, transformar e reivindicar o território.
A vivência das crianças nos espaços comuns da favela, a partir das brincadeiras realizadas fora de casa e pelo deslocamento a pé, permitiu que elas tivessem esse olhar atento aos problemas coletivos.
Na Rocinha, por exemplo, as crianças transformam lajes, escadarias e becos em territórios afetivos. Segundo Glauci Coelho, Cristiane Rose Duarte e Vera Vasconcellos, esses espaços são apropriados como extensão da casa, do corpo e da identidade. A fronteira entre casa e rua é fluida. Os espaços são constantemente ressignificados pelas crianças, que os ocupam com jogos, encontros e invenções.
“As crianças da favela estabelecem com o lugar relações afetivas, que cimentam suas identidades em constantes interações com o meio”, apontam.
A dissertação de Luciane Guimarães de Souza Santos, “Favela do Esqueleto: infâncias e trajetórias educacionais”, reforça essa perspectiva. Para ela, as crianças não apenas habitam a favela — mas a produzem. Seus corpos em movimento, suas narrativas e suas práticas cotidianas transformam o espaço em lugar vivido.
Necroinfâncias e impactos da violência
Mesmo com toda a potência criativa e afetiva que as crianças imprimem ao território, a infância na favela também é atravessada por experiências de violência e exclusão. A violência armada nas favelas, por exemplo, interrompe trajetórias escolares e compromete o próprio direito à infância.
No artigo “Escola, não atire: guerra às drogas e violência de Estado no governo das infâncias negras”, Diego dos Santos Reis propõe o conceito de necroinfâncias para descrever as experiências de crianças negras submetidas a condições de vida e morte desiguais.
A política de guerra e de morte não poupa nem mesmo as crianças, pois mantêm inalteradas práticas sociais de violência, cujo significado não é plenamente reconhecido no debate público.
Esse cenário é agravado por dados alarmantes. De acordo com relatório citado por Reis, crianças em favelas do Rio de Janeiro chegam a perder até 35 dias letivos por ano devido a confrontos armados. Ao longo do ciclo escolar, isso representa uma lacuna de aproximadamente dois anos e meio de educação formal.
“Se mantida a média de 35 dias letivos perdidos por ano, (…) os estudantes perderiam aproximadamente dois anos e meio de escolarização no decurso dos 14 anos do ciclo escolar”, aponta.
Essa leitura se articula com o artigo “A infância negra brasileira: uma discussão sobre marcos históricos de (in)visibilidade”, apresentado por Santana, Pereira e Santos no VII Congresso Nacional de Educação, que conecta a infância negra contemporânea às raízes históricas da exclusão. Os autores afirmam que a favela é uma continuidade da senzala, e que a infância negra permanece invisibilizada pelas políticas públicas. Como destacam:
Os efeitos de mais de trezentos anos de escravidão trazem nítidas consequências à população negra, sendo percebidas principalmente na história de crianças periféricas a partir de indicadores sociais. Assim, mesmo com os avanços históricos, a violência sofrida na senzala incide na violência do contexto atual presente no território brasileiro.